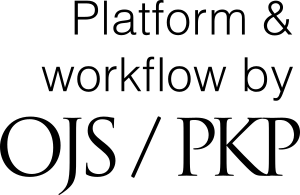A Qualidade de Vida (QV) de agricultores no espaço metropolitano: uma abordagem exploratória de sustentabilidade social agrícola
Resumo
Resumo Ao nos reportarmos à concepção de QV, instaurada no inicio do século XXI, relacionada à ideia de “Bem-estar humano” e de “Buen Vivir” nos sentimos incitados a pensar na QV de agricultores familiares e camponeses em espaço metropolitano. Nossa análise de QV abrangeu as situações concretas da condição de vida de 52 horticultores habitantes em duas regiões metropolitanas, sendo essas a de Belo Horizonte e a de Paris (região Île-de-France). Nessa empreitada, nos esbarramos sobre as questões de lugar de vivência e de identidade atreladas aos valores e aos julgamentos dos agricultores. Assim, esse artigo tem como objetivo apresentar uma definição de QV a partir do ponto de vista dos agricultores e sua relação com a permanência dos agricultores na agricultura. Palavras-chaves: Agricultura familiar; metrópole; desenvolvimento rural sustentável. Abstract The concept of life quality was defined in the beginning of century XXI, and is related to the idea of “human well-being” and “Buen Vivir”. With the fast reconversion of small farmers from conventional to organic farming it's necessary to evaluate the work conditions and the well being of the new group of agriculture workers. Are the new organic farmers happier? Can we talk about more social sustainability of the organic sector? To answer these questions the life condition of 52 market-gardener were evaluated in two metropolitan regions, the region of the city of Belo Horizonte in Brésil and the region of Paris (region Île-de-France). In both cases the organic group was compared to a reference group of conventional farmers The field approach made is possible to put first bases to life quality definition in the agriculture. Keywords: organic farming, sustainable agricultural development, life quality, social sustainability INTRODUÇAO A sustentabilidade social em sistemas agrícolas, ecológicos ou não, se traduzem, imediatamente, na permanência do agricultor nesses sistemas. Tal permanência supõe escolhas cuja condição da Qualidade de Vida (QV) são levadas em conta pelo individuo, nesse caso, o agricultor. Considerando, por um lado, que as regiões rurais na metrópole estão fortemente pressionadas ou modificadas pelo processo de urbanização e que por outro, a sociedade esta vivenciando situações de crise alimentar, climática e ecológica, tem-se que o modelo de abastecimento das grandes metrópoles, sustentado por grandes circuitos de produção e consumo, estão colocados em questão. Assim, emerge nos espaços metropolitanos a importância da manutenção do agricultor para objetivos de sustentabilidade e de segurança alimentar, dos quais, envolve questões de produção e consumo local. Tal reconhecimento vem ganhando força em diferentes regiões de grandes capitais do mundo, tal como Paris cuja importância agrícola ocorre atrelada a um discurso ecológico e alimentar e à formação de novas organizações sociais. A base dessas organizações têm tido como fio condutor o fortalecimento da identidade do agricultor. Em meio a esse movimento em prol do desenvolvimento agrícola e ecológico na metrópole, trazemos como questão a QV concebida pelos agricultores e as implicações ocasionadas pelo contexto socioespacial e pela ação política. MATERIAL E METODOS Os dados dessa publicação fazem parte da tese de doutorado desenvolvida em Co-tutela entre as universidades: Université Paris Ouest Nanterre La Defense e a Universidade Federal de Minas Gerais. Entre os anos de 2013 e 2014 foram pesquisados 52 horticultores, sendo 20 familiares (14 ecológicos e 6 convencionais) na RMBH e 32 maraîchers paysans ou horticultores camponeses (13 ecológicos e 19 convencionais) na IDF. Todos agricultores são horticultores em circuito curto de comercialização e possuem estabelecimentos de até 5 hec na RMBH e 10 hec na IDF. Os dados obtidos das entrevistas semiestruturada e aplicação de questionários foram transformados numericamente baseando-se no método de analise e representação multidimensional de Lebart, Ludovic, Marie Piron, and Alain Morineau (2006). A RMBH foi escolhida por ser uma região com grande potencial sócio espacial mas incipiente na gestão do espaço agrícola via fortalecimento da identidade agrícola, da visibilidade do agricultor e da criação de redes socioeconômicas em torno da alimentação e da preservação do meio ambiente. A IDF, por sua vez, possui uma ação social e política mais estruturada naquele sentido, inclusive com leis, orçamentos e programas. Nesse sentido, a diferença desses dois contextos podem nos informar em que medida os elementos de contextos implicam sobre a QV e a sustentabilidade dos agricultores. RESULTADOS A partir da analise de conteúdo das entrevistas e questionários podemos dizer que na concepção dos agricultores a QV é definida como: ter saúde, família e amigos. É viver em um ambiente natural, tranqüilo e sossegado, e nesse lugar, poder trabalhar e produzir alimento de qualidade para a família e sociedade, garantindo-se a renda, a manutenção do estabelecimento, o sustento da família e, o lazer. No que tange a intensidade dos sentimentos favoráveis ou não ao Bem-estar dos agricultores, nós a avaliamos a partir da indicação de sensações que lhes acometeram nas semanas anteriores da entrevista. Essa intensidade variava entre: “nunca”, “algumas vezes” e “sempre”. Dentre as variáveis presentes na figura 01, é importante ressaltar que: 1) compõem o Bem-estar um conjunto de sentimentos positivos, tais como alegria, prazer e satisfação; 2) compõem os sentimentos negativos as sensações de stress, sentimento de cólera e decepção; 3) a insegurança refere-se à instabilidade financeira e; 4) fazer agricultura por falta de opção de trabalho refere-se à um indicador de depreciação da própria identidade social e pessoal, bem como, das dificuldades para exercer a atividade. Na figura 01 abaixo, mostramos como a distância entre as sensações variam no interior dos grupos de agricultores ecológicos e convencionais, bem como, em ambas as regiões: Figura 01: A qualidade de vida de horticultores na metrópole de Belo horizonte e de Paris FIGURA 1 Nota-se que a diferença entre as sensações foi fortemente marcante no interior dos grupos da RMBH do que da IDF. Tal fato remeteu à existência de três circunstâncias que contribuíram para isso: 1) a valorização da identidade social do agricultor; 2) a segurança econômica e, 3) a possibilidade de reprodução social. Não obstante, observou-se que essas três circunstâncias ocorreram quando os agricultores encontravam-se sob 3 elementos de contextos abrangendo todo o território, qual seja: 1) existência, de forma estratégica e estruturada, de um processo de conscientização e sensibilização da sociedade local em torno da questão social, ambiental e alimentar; 2) existência de múltiplas redes de circuitos curtos de produção e consumo alimentar e; 3) existência de um plano metropolitano contendo um planejamento agrícola e instrumentos de gestão sócio espacial efetivamente postos em execução. Observa-se que a diferença entre a intensidade de sensações dos agricultores mostrou-se mais discrepante na RMBH onde estão presentes 2 dos 3 elementos acima citado: 1) valorização da identidade do agricultor (no entanto é uma valorização ainda precária, pois ocorre de maneira pontual e conforme a capacidade do próprio agricultor) e, 2) a segurança econômica (estabilidade de vendas em função dos circuitos curtos). Na IDF, contexto onde se encontram os 3 elementos acima citado a diferença entre a intensidade das sensações apresentaram-se menos discrepantes entre os agricultores. Em termos dos parâmetros dos gráficos observa-se que a intensidade da sensação de Bem-estar e sensações negativas foi mais equilibrada entre os agricultores da IDF do que da RMBH, principalmente entre os agricultores ecológicos e convencionais. A esperança no futuro, enquanto um indicador de QV se expressou na capacidade e possibilidade do agricultor em manter e/ou ampliar o estabelecimento para si próprio e para os filhos e envolveu tanto os sentimentos subjetivos (situados no lado direito do gráfico 01) quanto os posicionamentos dos agricultores (situados no lado esquerdo do gráfico 01). Os agricultores ecológicos em ambas as regiões tendem menos para o lado direito e assim apresentam melhores possibilidades de sustentabilidade. Observou-se que a invisibilidade dos agricultores coloca seus espaços e sua reprodução socioeconômica fragilizados frente a pressão urbana e social que recai sobre os mesmos. Essa invisibilidade está ligada ao esfacelamento do lugar e da cultura, ambos vinculados ao trabalho e ao modo de vida agrícola. As impressões dos agricultores remetem muitas vezes, às suas percepções sobre o esvaziamento da “comunidade agrícola” ocasionada pela saída dos jovens e pelas transformações ocorridas no espaço, tal como expressam dois agricultores da RMBH, quando dizem: “antes eu vivia sossegado e, agora minha fazendinha faz muro com o vizinho” e “o que antes era tudo plantação, agora é cimento, piscina e barulho, a agricultura vai acabar, as pessoas vão querer comer e não vai ter agricultor para produzir”. Assim, a invisibilidade do agricultor esta atrelada à invisibilidade do espaço agrícola, e suas implicações ocorrem em cadeia, ou seja: a desconsideração da sustentabilidade agrícola deixa em aberto um processo de valorização e de aumento do custo do terreno ocasionados por projetos de planejamento. Nessa medida, o acesso à terra torna-se cada vez mais inviável ao agricultor, por conseqüência, diminui-se a disponibilidade de terra para produção alimentar e contribui-se para o enfraquecimento da capacidade de proceder a herança agrícola. CONCLUSAO A QV dos agricultores está ligada, dentre outras coisas, ao valor que eles dão a si mesmos e a percepção de seu lugar na sociedade. Essa pesquisa aponta para duas conclusões gerais, uma é que os governos e sociedades locais contribuem para a melhoria da QV dos agricultores quando há uma política estratégica de organização sócio espacial para o desenvolvimento agrícola sustentável e que a agricultura ecológica proporcionou aos agricultores pesquisados, no mínimo, a mesma ou uma melhor QV comparada com a situação dos agricultores praticantes da agricultura convencional. No caso dessa ultima, ressalta-se que tanto na RMBH quanto na IDF, o desenvolvimento da agricultura ecológica reafirma-se atrelado às questões de QV, questões essas que remetem à valorização da identidade agrícola; do agricultor local; da preservação do meio ambiente; do lugar de vivência e dos laços de coesão social rural-urbano no âmbito da metrópole. Porém, diferentemente da RMBH, na IDF a valorização da identidade do agricultor ecológico e da produção local possui status de uma ação sócio política de cunho estratégico, realizada tanto pelo governo quanto, pela sociedade como um todo fazendo com que a QV entre os agricultores não variasse significativamente.Referências
Lebart, Ludovic, Marie Piron, and Alain Morineau. Statistique exploratoire multidimensionnelle: visualisation et inférences en fouilles de données. 2006.
Downloads
Publicado
2016-05-16
Edição
Seção
IX CBA 5. Construção do Conhecimento Agroecológico